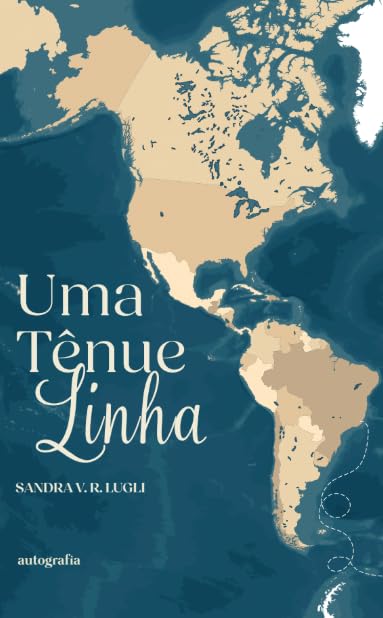O mistério da rua sem saída
Eduardo Martínez: Conto ‘O mistério da rua sem saída’


Duas meninas, gêmeas, sete anos, uma Ana Maria, outra Mariana. Ana Maria tinha grandes olhos de um castanho meio mel; Mariana também. Ana Maria com seus cabelos encaracolados, caídos um pouco abaixo dos ombros; Mariana também. Ana Maria adorava sorvete de flocos; Mariana, de morango.
As duas irmãs moravam em uma pequena rua, uma rua sem saída, num bairro bem distante, numa cidade bem grande, num país chamado Brasil. Havia outras crianças na rua da Ana Maria, que também era a rua da Mariana, mas que também era a rua de outras pessoas.
Juliana também morava nessa rua, era amiguinha das gêmeas, tinha cabelos lisos, loiros, caídos bem abaixo dos ombros. Todos a chamavam de Jujuba. Também havia a Gabriela, morena dos cabelos tão grandes que alcançavam o bumbum. Nossa, a Gabriela era tão mandona, gostava de chefiar tudo. Mandar era com ela mesma. Iago era um dos poucos meninos da rua, magro como um palito, negro, dois olhos de jabuticaba bem madura.
A criançada se divertia com as brincadeiras que seus pais e até avós já haviam brincado. Queimada, que essa nova geração cismava em chamar de queimado, pique-esconde, bandeirinha, o mestre mandou. Muitas e muitas brincadeiras. Puxa, como se divertia essa meninada!
Não só havia crianças nessa rua, mas árvores frondosas, principalmente amendoeiras. Quando chovia, e a criançada não queria acabar a brincadeira, todos se protegiam embaixo das árvores. E quando o sol estava muito forte, a galerinha também ficava sob as copas tão protetoras das mesmas árvores.
Alguns gatos circulavam pela rua, uns tinham dono, outros eram da rua mesmo. Um desses errantes era um lindo gato branco, a cauda mais peluda do que o resto do corpo, um pouquinho gordo, mas nada que o impedisse de escalar muros e até mesmo as belas árvores. E mesmo sendo um bichano das ruas, tinha nome e até sobrenome, colocado pelo pessoal da vizinhança. Pois bem, o dito cujo se chamava Virgulino Ferreira da Silva. Mas por que cargas d’água iriam dar um nome desses a um gato, você poderia perguntar. É mais simples do que parece: esse bichano recebeu esse nome como uma referência ao cangaceiro Lampião, que se chamava Virgulino Ferreira da Silva e só tinha um olho. Pois é, o gato Virgulino também só possuía um olho. Ninguém sabe na verdade como ele perdeu o outro ou, se sabe, já se esqueceu.
Quem sempre andava com o Virgulino era um gato de cor cinza azulado, olhos verdes e que sempre se metia em confusão. Já havia escapado da morte diversas vezes e, por esse motivo, ganhara o sugestivo nome de “Elvis não morreu”. Virgulino e Elvis eram amigos inseparáveis, sempre se metendo em encrencas juntos, sempre saindo delas juntos. Eram como unha e carne.
Não poderia deixar de existir nessa história uma gatinha, que por sinal se chamava Sonja ou, para os íntimos, Sonjinha. Uma bela bichana de cor cinza, tigrada, olhos verdes como os do Elvis, mas bem mais dóceis e confiáveis. Ao contrário de Virgulino e seu amigo inseparável, Sonja possuía dono, ou melhor, dona, ou melhor ainda, duas donas: Ana Maria e Mariana ou, se você preferir, Mariana e Ana Maria, as tais gêmeas de que falei logo no início desta história.
Sonja não era a única na casa das duas irmãs, dividia o caixote de madeira com seu filho único, o Dunguinha, um gatinho loiro e de olhos verdes. Ele ainda não havia completado três meses, mas já era o xodó da casa, da rua, enfim, de todos que o conheciam. Era uma coisa de Dunguinha para cá, Dunguinha para lá, todos queriam pegar o filhotinho no colo.
Não só de crianças, árvores e bichanos esta história é feita. Também havia os pais e mães da criançada. Ah, claro, também não podemos nos esquecer dos outros animais como, por exemplo, a Cuca, uma cachorrinha muito simpática, que morava na mesma casa da Sonja. Ela também pertencia às gêmeas Ana Maria e Mariana e, apesar do dito popular, se dava muito bem com os bichanos da casa e até mesmo com os da rua.
Atirei o pau no gato
A criançada estava brincando na rua, numa sexta-feira já perto das dezenove horas, que é a mesma coisa que sete horas da noite. Só que era horário de verão, e o dia continuava claro.
Era um corre-corre para cá, um corre-corre para lá. A patota já havia brincado de pique-bandeira, que alguns chamam de bandeirinha. Também se divertiram muito jogando garrafão. Ei, não pense você que jogar garrafão é sair atirando garrafas nos coleguinhas. Garrafão é o nome de uma brincadeira onde a gente desenha uma grande garrafa no chão. Aí, quem está dentro do garrafão só pode andar com um pé, a não ser que seja você que está tentando pegar seus amiguinhos. Quem está de fora pode usar os dois pés. Bem, mas como eu ia dizendo, a galerinha já havia gastado muita energia em inúmeras brincadeiras divertidas. Então, a Gabriela, a tal menina mandona, chamou todos para brincar de show de calouros. Cada um tinha de cantar uma música, mas podia cantar em dupla, trio ou, até mesmo, todos juntos.
— Eu posso ser a primeira? – Jujuba perguntou.
— Tá bem. Depois vai ser a Mariana – Gabriela disse.
— Mas eu posso cantar com a minha irmã? – quis saber a Mariana.
— Claro que pode, Mariana – concordou a Gabriela.
— E eu não vou cantar? – o Iago perguntou quase chorando.
— Claro que vai, Iago – todos responderam ao mesmo tempo.
Jujuba cantou “O trem maluco” e foi aplaudida por todos. Depois foi a vez das gêmeas cantarem “Cai, cai balão”. Outras crianças cantaram “Marcha soldado”, “Casa engraçada” e outras canções. Quando chegou a vez do Iago, ele não quis cantar sozinho e pediu para que todos cantassem juntos “Atirei o pau no gato”. Não pense você que eles maltratam os animais, mas apenas preferem a versão original àquela que diz “Não atirei o pau no gato”.
Quando terminaram de cantar “Atirei o pau no gato”, alguém, acho até que foi a Ana Maria, perguntou se uma das crianças tinha visto o Virgulino. Ninguém, mas ninguém mesmo soube responder. Pensando bem, a última vez que haviam visto o tal gatinho branco foi pela tarde do dia anterior. E acho que foi o Iago, isso mesmo, foi o Iago quando voltava da escola, que o viu pela última vez.
Gabriela imediatamente organizou duas turmas de busca. A primeira era formada por Jujuba, as gêmeas, Taís e Leila. A outra turma ficou sendo a Gabriela, Amanda, Iago e o Leo, que na verdade se chama Leonardo e é irmão da Leila.
A galera da primeira turma tinha de procurar embaixo dos carros; a outra procurou em cima das árvores. Procuraram, procuraram, procuraram… Puxa, mas como procuraram! E nada de acharem o Virgulino. Ainda estavam procurando quando a mãe da Leila e do Leo os chamaram.
— Leila! Leo! Já tá tarde! Vamos entrando!
Logo em seguida foi a vez da avó do Iago mandá-lo entrar. E as mães, pais e outras pessoas da família foram chamando a criançada para entrar. E todos foram se despedindo dos coleguinhas e entraram para as suas respectivas casas.
Pique-esconde
No dia seguinte, uma sexta-feira, lá estava a garotada da rua sem saída, a rua da Ana Maria e da Mariana, a mesma rua que também era de outras crianças, de árvores frondosas e de vários bichinhos.
— Gente, hoje é sexta-feira, amanhã não temos aula, pois será sábado. Então, podemos brincar até um pouco mais tarde – disse Gabriela, que você já sabe que era mandona.
— É mesmo! Que legal! – foi dizendo Iago.
— Mas estudar também é muito legal – falou a Mariana.
— É isso aí, Mariana! – concordou a Jujuba.
— Podemos brincar de pique-esconde – sugeriu a Ana Maria.
— Bacana! – disse a Taís.
— Maneiro! – concordou a Leila.
Como a maioria queria brincar de pique-esconde, a proposta da Ana Maria foi aceita. Logo estavam todos formando um círculo e gritando “zerinho ou um”. O último a sair contaria até 50 para que os outros se escondessem. E o último a sair foi justamente o Leo.
— Um, dois, três, quatro, cinco… – enquanto o irmão da Leila contava com o rosto virado para o pique, todos se escondiam.
A Ana Maria e a Jujuba se esconderam atrás de uma moita de capim limão, a Mariana foi para trás de um carro, o Iago e a Taís subiram em uma árvore, a Leila e a Gabriela ficaram atrás de uma outra árvore. As outras crianças também se esconderam, cada uma tentando escolher o esconderijo mais perfeito.
Pois é, a galerinha ficou nessa brincadeira por mais de uma hora. Depois do Leo, foi a vez da Jujuba contar até 50 para que todos se escondessem. Mariana e Taís a sucederam. E depois ainda vieram a Gabriela, a Leila e, por último, o Iago. Só a Ana Maria não teve de contar até 50. É, dessa vez, a danadinha teve sorte!
A brincadeira só acabou mesmo porque alguém se lembrou de procurar o Virgulino, que havia sumido e ninguém conseguiu achá-lo. Se não estou enganado, acho que foi a Mariana que se lembrou. Seja como for, a mandona da Gabriela dividiu os grupos como no dia anterior e todos foram procurar o Virgulino.
Era um tal de gritar “Virgulino” pra cá, “Virgulino” pra lá, mas nada do bichano aparecer. De tanto berrarem, as crianças já estavam ficando roucas. Gritaram até que a Taís percebeu que não era só o Virgulino que havia sumido. Ela notou que o amigo inseparável do gatinho desaparecido também não estava por ali.
— Galera, vocês notaram que o Elvis também sumiu? – perguntou a Taís.
Ninguém havia visto o amigo do Virgulino. Então, a Gabriela chamou todo mundo e fez uma grande roda.
— Pessoal, a Taís notou que o Elvis também sumiu. Ontem ele estava aqui, mas hoje desapareceu. O que será que houve com os dois? Será que foram embora da nossa rua? – falou a mandona.
Mas antes que alguém pudesse responder, o pai das gêmeas mandou que elas entrassem. Logo em seguida foi a vez da mãe da Leila e do Leo chamá-los. E assim a criançada foi entrando para as suas respectivas casas, sempre obedecendo aos chamados dos pais, das mães, das avós…
Cobra-cega
O sábado amanheceu ensolarado e logo a garotada estava na rua. A brincadeira já ia começar. A maioria escolheu brincar de cobra-cega, que alguns conhecem por cabra-cega. Só estavam faltando as gêmeas, que ainda não tinham saído de casa. Então, a Gabriela, que era mandona mesmo, falou pro Iago ir chamá-las.
— Puxa, sempre sobra pra mim! – resmungou o garoto de olhos de jabuticaba.
Antes mesmo que o Iago tocasse a campainha da casa da Ana Maria e da Mariana, elas apareceram e falaram ao mesmo tempo:
— Iago, você viu a Sonjinha e o Dunguinha?
— Não. Por quê? Não vão me dizer que eles sumiram também?
— Isso mesmo – respondeu Ana Maria antes da sua irmã.
Os três correram para contar a novidade para a galerinha. Então, a Gabriela dividiu a turma em dois grupos para procurar os dois gatinhos. Aliás, os quatro, pois o Virgulino e o Elvis continuavam desaparecidos. Procuraram, procuraram, procuraram e nada de encontrar os felinos. Onde eles poderiam estar?
Depois de mais de uma hora procurando os gatinhos, a Ana Maria veio conversar com a Gabriela.
— Gabi, estive pensando numa coisa.
— No quê, Aninha? – quis saber a Gabriela.
— Olha, já procuramos os nossos amigos gatinhos em vários lugares, mas até agora nem sinal deles. Então, tive uma ideia!
— Que ideia, Aninha? – quis outra vez saber a Gabriela, que além de mandona era muito curiosa.
— Precisamos da ajuda de mais alguém! – disse a Ana Maria fazendo um certo mistério.
— E de quem? – mais uma vez a mandona e curiosa da Gabriela quis saber.
— Ora bolas, da Cuca! – finalmente disse a Ana Maria.
— Da Cuca? Mas por que da Cuca? – a Gabriela não entendeu.
— Olha, a Cuca é uma cachorrinha e tem um ótimo faro. Ela conhece o cheiro de todos os gatinhos que sumiram. Então, ela vai achá-los! Tenho certeza de que ela irá encontrá-los! – falou a Ana Maria.
— Boa ideia! – disse o Diogo, que estava por perto e acabou ouvindo a conversa das duas.
— É, pode dar certo – concordou a Gabriela.
Depois de chamar toda a criançada da rua, a Gabriela falou para o Iago ir buscar a Cuca, que era a cachorrinha da Ana Maria.
— Iago, vai lá na casa da Ana Maria e traga a Cuca aqui.
— Ah, tudo eu, tudo eu! – resmungou o Iago, mas mesmo assim obedeceu à mandona da rua.
Em menos de cinco minutos, o Iago estava de volta com a Cuca, que veio abanando o rabinho para a garotada. Ela gosta tanto das crianças que acabou por derrubar a Ana Maria e começou a lamber o seu rosto. A Mariana foi tirá-la de cima da irmã, mas a Cuca deu um pulo e a jogou no chão e também lambeu o seu rosto.
— Para, Cuca! Você está me fazendo cócegas – protestou a Mariana.
— Au, au, au! – a Cuca latia chamando todos para brincar.
— Quieta, Cuca! – ordenou a Gabriela.
Até a Cuca sabia que a Gabriela era mandona e, por isso mesmo, saiu de cima da Mariana e se sentou ao seu lado. A Mariana limpou seu rosto das lambidas da cachorrinha danada.
— Aninha, fala pra Cuca procurar os gatinhos – disse a Gabriela.
A Ana Maria se ajoelhou em frente à Cuca, pegou a cabeça da cachorrinha com as suas duas mãozinhas e olhou bem dentro dos olhos dela.
— Cuca, quero que você ache a Sonjinha, o Dunguinha, o Virgulino e o Elvis, que sumiram. Ninguém sabe onde eles estão. Você pode encontrá-los pra mim? – falou a Ana Maria.
— Au, au, au! – respondeu a Cuca.
A cachorrinha, então, colocou o focinho no chão e saiu em busca de uma pista. Ela vinha e voltava, vinha e voltava com o focinho quase arrastando no chão e a cauda levantada. Até que ela foi seguindo para o final da rua, onde parou em frente à casa de um tal Ubaldo Canastra, que havia se mudado há poucas semanas para o bairro.
A Cuca ficou de pé com as patinhas da frente apoiadas no muro da casa. Ela estava inquieta, o rabinho agitado, mas não latia para não chamar a atenção do dono da casa. A Cuca era danadinha, mas também não era boba.
A criançada correu até onde a Cuca estava. Jujuba foi a primeira a falar.
— Galera, os gatinhos estão aí dentro! Vamos entrar e pegá-los!
— Não podemos fazer isso, Jujuba. Quem mora aí é aquele homem estranho, o tal Ubaldo Canastra – disse a Taís.
— A Taís tem razão. Precisamos bolar um plano para salvar nossos amiguinhos – disse a Amanda.
Então, a Gabriela, que você já sabe que era mandona e curiosa, convocou toda a galerinha para uma reunião secreta. Só que quando todos já estavam na tal reunião secreta, a mãe da Gabriela a chamou para almoçar. Não demorou muito e todas a mães, pais, avós, avôs, tias e tios da criançada apareceram na rua para avisar que o almoço já estava na mesa.
O plano
Após o almoço, a gurizada foi saindo de casa. Primeiro foram as gêmeas Ana Maria e Mariana, depois a Jujuba, a Taís, a Gabriela, o Diogo, a Amanda, enfim, todos, menos um, o Iago. Bem, o Iago demorou porque ele é meio guloso. Também, naquele dia tinha feijoada e o Iago adora comer o feijão da sua avó. Aliás, o Iago come de tudo, dizem que até sopa de pedra!
Depois de esperar pelo amiguinho guloso, a criançada finalmente viu surgir o Iago, que vinha coçando a barriga de satisfação.
— Ah, que feijoada deliciosa! – disse o glutão.
— Puxa, até que enfim você apareceu, Iago – protestou a Gabi.
— É mesmo, Iago. A gente só estava esperando você pra começar a reunião – disse a Jujuba.
Então, a reunião teve início com as palavras da Gabriela.
— Amiguinhos e amiguinhas, debaixo desta linda castanheira digo que a reunião comece. A pauta é o salvamento dos nossos amiguinhos gatinhos – disse a mandona.
A Mariana levantou a mão para falar. A Gabriela olhou para ela e falou para todos prestarem atenção nas palavras da colega.
— Meus amiguinhos, minha irmã e eu tivemos uma ideia para salvar os gatinhos. Olha, um de nós vai ficar vigiando a casa do Ubaldo Canastra. Quando ele sair, a gente pula o muro e entra na casa dele. Aí, a gente pega os nossos amiguinhos e fugimos – disse a Mariana.
— Boa! – concordou a Jujuba.
— Mas e se ele aparecer de repente? – quis saber o Diogo.
— Bem, é só deixar alguém vigiando a rua. Quando o Ubaldo Canastra aparecer, quem ficar de vigia avisa os que entrarem na casa – explicou a Mariana.
— Legal! – disse a Jujuba.
— É, acho que o plano das gêmeas vai funcionar – concordou a Taís.
Então, a Gabriela perguntou se todos estavam de acordo com o plano, e ninguém foi contra. A mandona continuou a falar.
— Iago, você vai ficar vigiando a casa do Ubaldo Canastra. Assim que ele sair, você avisa a gente.
— Puxa, tudo eu, tudo eu – resmungou o Iago.
— E quem vai entrar na casa? – perguntou a Amanda.
— Eu, a Aninha, a Mariana, a Jujuba e a Taís – respondeu a Gabriela.
E assim ficou acertado o plano de resgate dos quatro gatinhos. Mas como o dia foi passando e nada do Ubaldo Canastra sair de casa, a garotada resolveu brincar de queimado. E o tempo foi passando, passando, até que as mamães, os papais, as avós, os avôs, as titias e os titios foram chamando a criançada para entrar. Brincadeira só no outro dia!
O resgate
Domingo! O primeiro a sair à rua foi o Diogo. Ele estava brincando de rodar pião. Logo chegou a Jujuba, que brincou um pouco também. Depois apareceram a Taís e a Gabriela quase ao mesmo tempo. A criançada foi chegando aos poucos, mas ainda faltava um. E você pode adivinhar quem era esse retardatário? Pois é, era o guloso do Iago, que não se contentava com um pão. Ele come pelo menos três! E olha que ele é magrinho que nem palito!
E brinca daqui, brinca dali… A meninada estava com todo gás esse dia. E o Iago, mesmo brincando, não desgrudava os olhos de jabuticaba madura da casa lá no final da rua, onde morava o tal Ubaldo Canastra.
Ih, agora me lembrei que não disse como era esse tal Ubaldo Canastra. Pois bem, ele é um homem de mais de 1,80 metro de altura, pelo menos uns cem quilos ou mais, mãos enormes com dedos grossos, as unhas são tão grandes e cheias de sujeira, é calvo e o pouco dos cabelos que lhe restam são quase pretos. Tem um enorme nariz de batata e sua pele é branca encardida de terra. Seus olhos são maiores do que os de uma coruja e sua boca mais fedorenta que um penico. Pois é assim mesmo esse Ubaldo Canastra!
De repente o Iago começou a pular e apontar para o final da rua. Mas ele não conseguia dizer coisa com coisa. Teve criança até que achou que o guloso da rua tinha pirado. Também teve uma menina, acho até que foi a Jujuba, que achou que o Iago estivesse com dor de barriga.
— O que foi, Iago? – perguntou a Gabriela.
— E…e… ele saiu! – gaguejou o guloso.
— Ele quem, Iago? – quis saber a Jujuba.
— O… o… Ubal… Ubaldo Canastra! – finalmente falou o Iago.
— Vamos turma! Temos de agir o mais rápido possível – disse a Gabriela.
Enquanto a criançada corria para frente da casa do Ubaldo Canastra, a Ana Maria e a Mariana correram para o lado oposto. A Gabriela não entendeu e as chamou.
— Ei, Ana Maria! Ei, Mariana! Aonde vocês estão indo? – falou a Gabriela.
— Vão indo na frente. A gente só vai pegar umas coisas lá em casa. Logo estaremos com vocês – respondeu a Mariana.
Então, a criançada ficou em frente à casa do Ubaldo Canastra. Em menos de cinco minutos apareceram as gêmeas carregando um balde e cinco ratoeiras.
— Pra que vocês trouxeram essas coisas? – quis saber a Gabriela.
— Depois a gente fala. Agora precisamos agir o mais rápido possível – disse a Ana Maria, já pulando o muro da casa do Ubaldo Canastra.
Então, a Mariana passou o balde e as ratoeiras para a sua irmã. Depois também pulou o muro. Vieram atrás dela a Gabriela, a Jujuba e a Taís. As outras crianças ficaram ajudando o Iago a ver se o Ubaldo estava voltando.
A porta da frente estava fechada. Então, as gêmeas tiveram a ideia de olharem se a porta dos fundos estava aberta. As cinco meninas deram a volta na casa. A porta de trás também estava trancada. Mas havia uma janela aberta, só que era um pouco alta para as meninas.
— Puxa, e agora? – falou uma desanimada Jujuba.
— Já sei! Já sei! – disse a Taís.
— O que você já sabe, Taís? – perguntou a Gabriela.
— Olha, a gente vai fazer uma pirâmide humana! Eu já vi isso no circo – respondeu a Taís.
— Pirâmide humana? Mas o que é isso? – quis saber a Jujuba.
— Pirâmide humana é o seguinte: a gente vai subindo uma em cima da outra até ficar bem alta. Entendeu? – respondeu mais uma vez a Taís.
— E isso vai dar certo? – perguntou a Gabriela.
— Só saberemos tentando – disse a Ana Maria.
Como a Gabriela era a mais velha e mais forte, ela ficou sendo a base da pirâmide. Então, ela encostou o corpo na parede da casa e falou para a Jujuba subir nos seus ombros. Ajudada pelas outras meninas, a Jujuba conseguiu ficar em cima da Gabriela. Depois foi a vez da Ana Maria subir nos ombros da Juliana. Ela foi ajudada pela Taís e pela Mariana. Com bastante esforço ela conseguiu.
— Vai logo, Ana Maria, pula logo a janela, pois não estou aguentando todo esse peso – disse a Gabriela.
A Ana Maria não perdeu tempo e entrou na casa através da janela. Ela estava no quarto do Ubaldo Canastra. Estava tudo escuro, apesar de ainda ser dia. É que as cortinas estavam todas fechadas. Tratou logo de descer a escada da casa de dois andares e foi abrir a porta de trás para a sua irmã e as suas amigas entrarem. Por sorte a chave estava na porta.
Assim que as meninas colocaram os pés na casa, ouviram um barulho…
— Miaaauuuuuu!
— É a Sonjinha!!! – explodiu de alegria a Mariana.
— Acho que o som veio dali – disse a Taís.
As meninas foram andando sempre de mãos dadas pela sinistra casa. Os miados continuaram, agora mais fortes, agora de todos os quatro gatinhos. Finalmente descobriram onde o malvado Ubaldo Canastra os havia escondido: presos numa gaiola dentro do banheiro.
Assim que os gatinhos viram as corajosas meninas, eles começaram a miar, principalmente a Sonjinha e o Dunguinha. As garotas soltaram os gatinhos. A Gabriela pegou o Elvis no colo, a Jujuba ficou com o Virgulino, a Taís carregou a Sonjinha e o Dunguinha.
— Meninas, vocês vão indo na frente. A gente tem de preparar uma surpresa pra esse malvado Ubaldo Canastra – disse a Ana Maria.
— O que vocês vão fazer? – quis saber a Gabriela.
— Depois você vai saber – disse a Mariana.
As amigas das gêmeas, então, saíram da casa carregando todos os gatinhos. Lá fora estavam as outras crianças esperando ansiosas pelas cinco meninas. Mas só apareceram três.
— Onde estão as gêmeas? – perguntaram todos quase ao mesmo tempo.
— Elas já estão vindo. Foram preparar uma surpresa pro Ubaldo Canastra – explicou a Gabriela.
O tempo foi passando, passando… Dez minutos! Quinze minutos! Vinte minutos!
— O Ubaldo Canastra está voltando, galera! – anunciou o Iago.
— Temos de avisar as gêmeas! – disse a Jujuba.
Mas não foi preciso chamá-las, pois antes mesmo do malvado raptor de gatinhos aparecer na rua, as duas irmãs saíram triunfantes da casa. Aí, todos correram para debaixo da amendoeira que ficava em frente à casa da jujuba.
— O que vocês fizeram lá dentro? – perguntou o Iago.
— A gente colocou água no balde. Depois o pusemos em cima da porta do quarto do Ubaldo. E espalhamos as ratoeiras pelo chão – respondeu a Ana Maria.
— Ué, mas pra que vocês fizeram isso? – perguntou a Amanda.
Mas antes que uma das gêmeas respondesse, a criançada ouviu vários gritos vindos da casa do final da rua. Logo após surgiu o malvado Ubaldo Canastra todo molhado e com cinco ratoeiras penduradas pelo corpo: uma em cada mão, uma em cada orelha e uma pendurada no nariz de batata. A criançada caiu na gargalhada. E essa foi a última vez que todos naquela rua viram aquele homem malvado que, segundo as pessoas, pegava gatinhos para fazer churrasquinho e tamborim.
As duas irmãs continuam morando na mesma rua, uma rua sem saída, num bairro bem distante, numa cidade bem grande, num país chamado Brasil. Talvez seja até uma rua bem parecida com a sua.
Eduardo Martínez

Eduardo Martínez é um premiado escritor carioca, mas mora em Porto Alegre, cidade pela qual é apaixonado. Vencedor do Prêmio Literário Clarice Lispector – 2025 na categoria livro de contos com “57 Contos e crônicas por um autor muito velho”, que saiu pela Joanin Editora.
Seu primeiro livro, o romance “Despido de ilusões”, 2004, figurou entre os mais lidos do Centro Cultural Banco do Brasil.
Seus contos e crônicas, que já ultrapassaram a incrível marca de 1.000 publicações, são utilizados por escolas no Rio de Janeiro, em Brasília e em Brodowski-SP. É cronista/contista do jornal Notibras (https://www.notibras.com/site/) e do Blog do menino Dudu (https://blogdomeninodudu.blogspot.com/).
Divide a editoria Café Literário do Notibras com o poeta e escritor Daniel Marchi e a jornalista e poeta Cecília Baumann.
Instagram: @escritoreduardomartinez