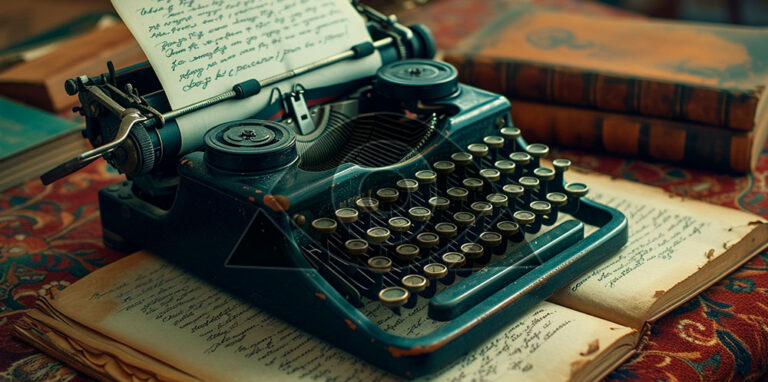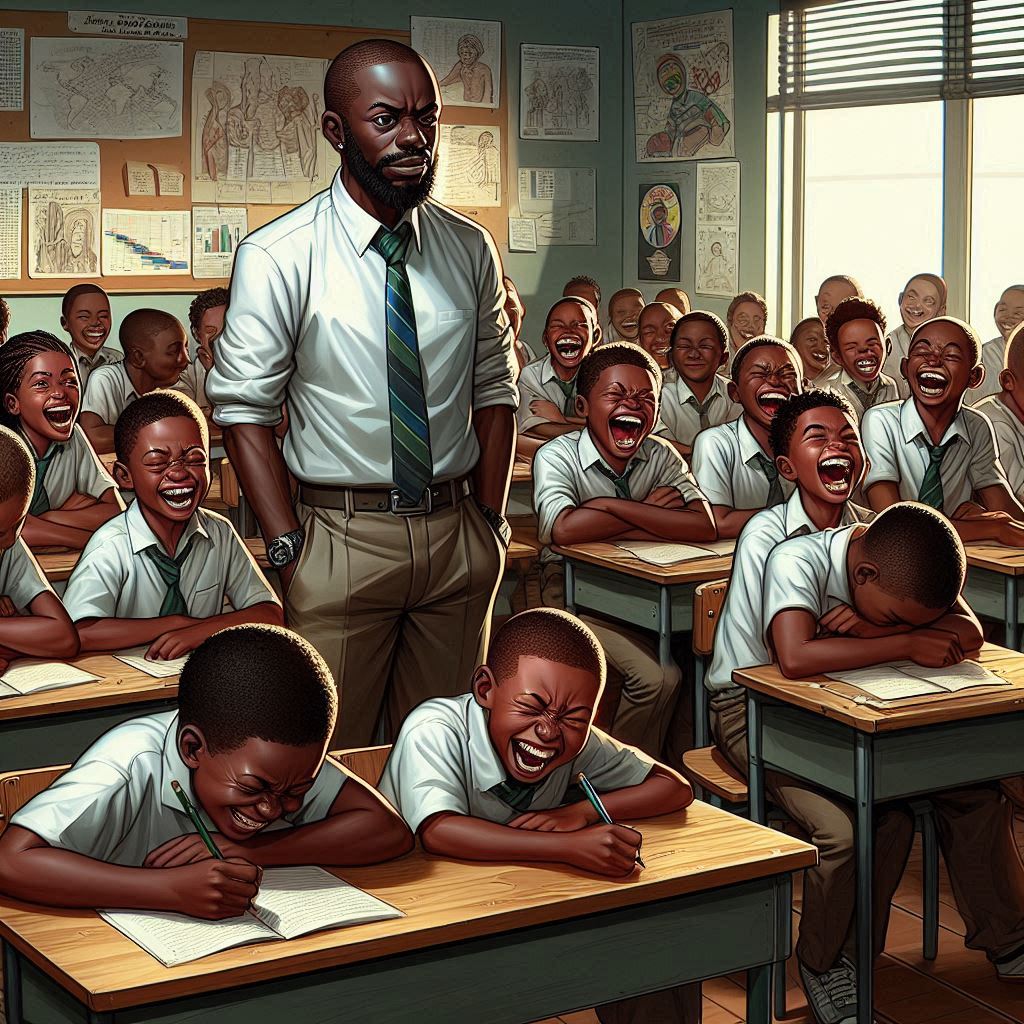Gramática não é má temática!
Fidel Fernando: ‘Gramática não é má temática!’


às 11:32 AM
Ao longo dos anos, a gramática foi tratada como vilã por muitos educadores e estudantes. Alguns a consideram irrelevante, ultrapassada, ou até mesmo um obstáculo à criatividade. No entanto, afastar a gramática do ensino é como tentar construir uma casa sem fundamentos sólidos. Ela não é a protagonista, mas desempenha um papel essencial no enredo do aprendizado da língua portuguesa.
Mas, afinal, em que momento a gramática se torna uma aliada? É aí que reside o segredo de um ensino produtivo: quando a gramática deixa de ser um conjunto de regras rígidas e passa a ser ensinada no momento certo, de forma integrada à prática textual e às necessidades do aluno.
Assim, o contexto certo faz toda a diferença. Pensemos em uma criança que ainda não foi alfabetizada. Faz sentido ensiná-la sobre tempos verbais ou sons do grafema ʻxʼ? Certamente, não. Antes de falar sobre como o ʻxʼ pode soar como [s], [ks] ou [ch], é preciso garantir que o aluno saiba identificar, pronunciar e escrever palavras básicas. A gramática, nesse cenário, é como uma ponte: só se constrói quando os pilares básicos da leitura e da escrita estão sólidos.
Por exemplo, suponhamos que, durante uma aula de leitura, os alunos encontrem palavras como próximo ou ʻtóxicoʼ, porém não conseguem pronunciá-las correctamente. É aqui que entra a abordagem estratégica da gramática. Ensinar sobre os diferentes sons do ʻxʼ (como em ʻpróximoʼ [s] e ʻtóxicoʼ [ks]) torna-se mais relevante porque resolve um problema prático e imediato.
Se a gramática for aplicada com exemplos extraídos do próprio texto lido antes, melhor ainda. Assim, os alunos aprendem as regras em um contexto real e significativo, ganhando não apenas conhecimento, mas também consciência linguística.
Outro ponto fascinante é lidar com tempos verbais. Erros comuns como confundir as desinências ʻ-ramʼ e ʻ-rãoʼ” podem ser corrigidos com actividades práticas. Trabalhar frases contextualizadas e explorar a tonicidade das palavras (em vez de ‘gramática pura e dura’, como diz professor Venâncio Chambumba), é uma forma eficaz de evitar trocas, tais como as que se leem no diálogo abaixo, extraído de um perfil do Instagram:
Ele: Vem para minha casa. Meus pais sairão.
Ela: Que horas?
Ele: Eles já sairão.
Ela: Ué, mas que horas?
Ele: Eles já sairão! É só você vir.
Ela: Eu não entendi. Eles estão aí ou não?
Ele: Meu Deus. Eles já forão.
A gramática, nesse contexto em que se usa ʻsairãoʼ em vez de saíram e ʻforãoʼ em vez de ʻforamʼ, deixa de ser uma lista de regras decoradas, tornando-se um meio para que o aluno se expresse com clareza e precisão.
Como bem destaca William da Cruz, “ensinar gramática é levar o aluno da intuição linguística à consciência linguística”. Essa consciência é o que permite ao falante compreender os mecanismos da língua, adaptando sua fala e escrita a diferentes contextos.
Na mesma linha, Travaglia, referido por Pestana, reforça que o ensino gramatical não se limita ao domínio da norma culta. Ele amplia a competência comunicativa e textual, favorecendo a compreensão e a produção de textos adequados a situações reais.
Pelo exposto, a gramática não deve ser encarada como má temática, mas como uma ferramenta estratégica no ensino da língua. Ela não é um fim em si, mas um meio de promover a clareza, a criatividade e a competência linguística. Quando bem ensinada, no momento certo e de forma integrada, deixa de ser o terror dos estudantes para se tornar uma aliada poderosa na construção do conhecimento. Que a gramática, longe de ser a vilã, possa ocupar o lugar que merece: o de uma coadjuvante indispensável na grande trama do ensino da disciplina de Língua Portuguesa nos dias actuais.
Fidel Fernando